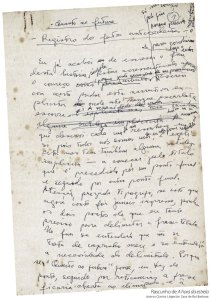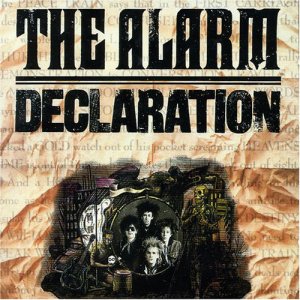Foto: Yamini Benites[/caption]
Foto: Yamini Benites[/caption]Eu acho que 2013 é um daqueles anos que não acabará tão cedo. Vocês sabem: existem momentos em nossas vidas que, pela profundidade de emoções que evocam, pelos inúmeros desdobramentos que geram e pelas reflexões que ensejam, acabam marcados com especial destaque na nossa história pessoal ou coletiva. Embora gostemos da sensação de controle que nos traz um calendário exato, em que um dia sucede o outro e assim surgem meses que geram anos e décadas pela vida afora, a verdade é que o tempo do mundo é bem diferente do nosso e em geral imprevisível. Espalha acontecimentos importantes por períodos tão longos que tudo se torna quase imperceptível, ao mesmo tempo que concentra grandes descargas emocionais em poucos instantes, como o vento que sopra suave trazendo as nuvens de grande tempestade. O mundo, como sabemos, não se presta muito a retrospectivas.
Sobrevivemos todos, não é? Porque houve momentos em que 2013 parecia que não ia acabar nunca. A passagem do tempo, geralmente uniforme, ganhou momentos de estranha densidade, como se os relógios andassem mais lentos, os passos fossem mais demorados, os dias extensos, as noites quase eternas. Eu andava pela João Pessoa molhada de chuva, vendo ao longe a fumaça e as explosões e pensando meu deus isso nunca vai acabar. As semanas explodiam nas segundas e quintas-feiras, enquanto os demais dias serviam de caldeirão onde o extrato de incontáveis revoltas cozinhava em fogo alto até a próxima explosão. E logo tudo era barulho e gritaria, tudo era correr e esconder-se e andar um pouco mais, sempre em frente. Uma gestação ruidosa e tensa, de algo que ninguém tinha certeza do que pudesse ser. Acabou a fúria, acabou a gestação, seguimos aguardando o parto. Tudo parou, mas nada está encerrado. O mundo novo só nasce depois que o velho já cansou de agonizar.
E eis o que todos somos neste 2013 que, mesmo encerrado, não acaba nunca: atores e testemunhas da lenta agonia de um mundo que deve morrer. Entre tantas dúvidas e incoerências, resta-nos o toque reconfortante de uma verdade coletiva - o mundo que existe não serve mais. E isso todos percebem, mesmo os que juram não perceber coisa alguma. É esse o extrato de todo pesadelo, de toda fobia inexplicável, de todo choro e toda fome e toda tristeza, inadequação, sofrimento e solidão: algo está muito errado no mundo. E em 2013 essa certeza, que não era nada nova, cristalizou-se entre nós. Não é algo que se resolva mudando o partido que está no governo ou colocando criminosos na cadeia: é a angústia coletiva de quem, sentindo tudo errado, não sabe bem por onde começar a mudança. Sabemos todos que a aurora do mundo em que vivemos há muito já passou - alguns sentem na carne, outros no espírito, mas quem sente sabe que sente e não pode mais fingir não sentir nada. Claro que para muitos nada disso faz sentido, uma vez que nada sentem e nada enxergam. Compreensível: não é em casa ou pela televisão que se verá o Fim do Mundo.
Houve muito fogo em 2013. Houve choro e houve dor, houve horror e sangue, mentira e contradição. Houve raiva. Mas é a raiva que nos faz dizer basta, que nos move a exigir algo além. É a raiva que nos impele para a frente - e é apenas a partir do movimento que podemos achar o amor perdido nas esquinas da conveniência e da conformidade. Raiva é o amor que não encontrou sua trilha, e nesse sentido 2013 foi um ano belíssimo: cheio de raiva, com a promessa de incontáveis trilhas de amor.
Fatos não interessam. São pequenas marcas na trilha arenosa, pegadas um pouco mais profundas talvez, mas que logo serão cobertas pelos passos dos que virão. O que importa é a trilha - e essa todos os pés constroem juntos. Falo de trilhas, e é por isso que de fatos e acontecimentos nada menciono por aqui.
E que efeitos teve 2013 sobre mim? Nenhum, e inúmeros. Tudo mudou, mas nada é diferente. Ao contrário: a trilha parece mais clara agora, mais nítida e mais convidativa ao passo. Ainda tateio no escuro (e quem de nós está livre disso?), mas a noite agora é menos densa, insinuam-se os primeiros raios de luz. Não temo os tropeços e quedas; resta, portanto, andar. Se eu fosse fazer alguma ou muitas resoluções pontuais, creio que todas remeteriam ao mesmo centro: há um caminho, já o enxerguei, por ele devo andar. É apenas isso que peço a mim mesmo: não temer os passos que virão. E apreciarei toda a companhia que a vida colocar a meu lado nessa jornada.